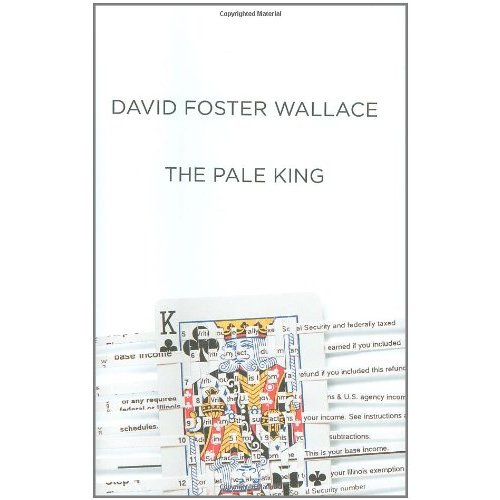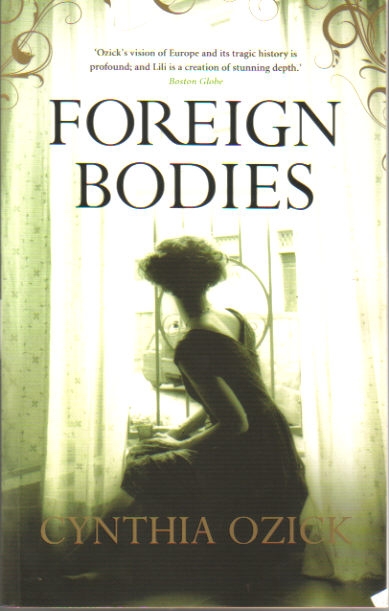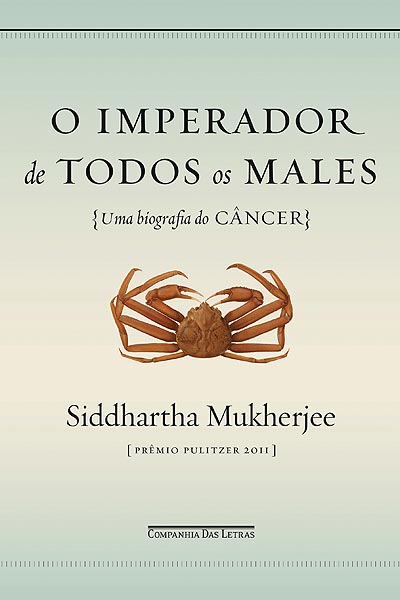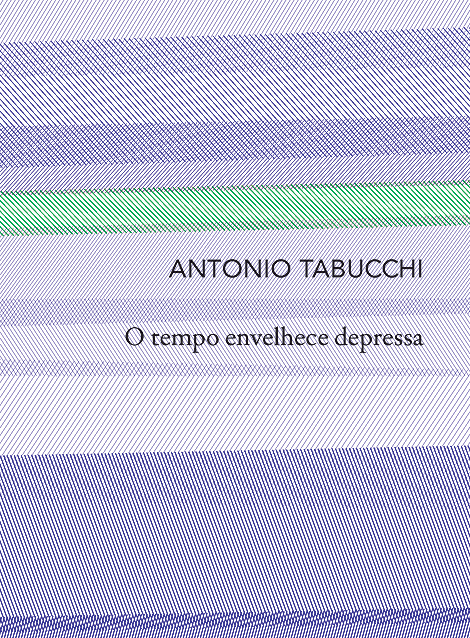O número 23 da Coyote começou a circular faz poucas semanas, e Ademir Assunção, Marcos Losnak e Rodrigo Garcia Lopes já preparam o próximo, bastante especial, pois será o do décimo aniversário dessa revista que criaram em Londrina, no Paraná, para publicar literatura e arte. A caminho, uma das novidades que chega com a data redonda é o site, antigo projeto.
Desde que fiz este post aqui, sobre o número 200 da Paris Review, prometi iniciar série sobre publicações literárias no país –para ler mais sobre essa revista histórica e até hoje influente aos 59 anos, vá por aqui, aonde encontra íntegra da entrevista do colega Fábio Victor com o editor atual, Lorin Stein, que saiu na “Ilustrada” sábado passado.
O blog vai mapear tanto os títulos de teor artístico-literário, como a Coyote, quanto os mais voltados à crítica literária, como Rascunho, os de humanidades, como a Novos Estudos Cebrap, e os literário-digitais, como a Errática.
Quem respondeu sobre a Coyote para o blog foi o poeta e tradutor Rodrigo Garcia Lopes, que publicou há pouco “Nômada” (Lamparina) e lança em agosto “Estúdio Realidade” (Iluminuras). A edição da Coyote, média de duas por ano, tem 52 páginas, custa R$ 10 e é distribuída pela editora Iluminuras —vá por aqui. No número atual, o dossiê dedicado a Moacyr Scliar, inéditos de Beatriz Bracher e a fotografia de Mara Tkotz são alguns dos destaques.
Como nasceu a Coyote? “De um velho sonho que Marcos Losnak, Ademir Assunção e eu tínhamos de fazer uma revista de literatura e arte, ainda quando cursávamos jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. Na época, começo dos anos 1980, fiz com Marcos Losnak e outros amigos os fanzines Hã e K’AN, com a participação do Ademir a partir do terceiro número. Nos anos 1990, eu e Ademir fomos editores da revista Medusa, de Curitiba, com Eliana Borges e Ricardo Corona. A Coyote surgiu em 2002, editada em Londrina. Só existe graças à nossa teimosia e ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) da prefeitura local. É este importante programa público que garante os custos mínimos para a impressão e circulação da revista.”
Vocês seguiram algum modelo de revista literária? “Não creio que seguimos nenhum modelo. Buscamos, sim, criar nossa própria linguagem, sobretudo no aspecto gráfico, que é um dos diferenciais, marca registrada da Coyote. Claro que muitas revistas passaram por nossas mãos, sobretudo as de invenção. Somos bastante fiéis ao projeto gráfico e editorial desde o primeiro número. Buscamos sempre a fatia mais radical da literatura brasileira e internacional. Radical na linguagem e nas abordagens.”
Quem é o seu leitor? “Os interessados em literatura, poesia e arte são potenciais leitores. Temos bastante feedback de artistas, escritores, poetas, jornalistas, formadores de opinião e leitores em geral. O difícil é fazer a revista chegar até eles. Alguns editores confessaram ter conhecido na Coyote autores inéditos que eles depois publicaram. É distribuída para todo o país, apenas em livrarias, mas todos sabem como são grandes as dificuldades de distribuição no Brasil. Além disso, tínhamos uma mala direta bastante grande no começo, até internacional, mas diminuiu pelo preço dos correios, limitando-se apenas ao essencial: bibliotecas públicas e universitárias, alguns críticos e autores.”
A parceria com a editora Iluminuras ajuda a distribuir a revista? “A parceria com a Iluminuras ajuda bastante na distribuição. Os que fazem revistas independentes sabem que o maior nó é a distribuição. Muitas livrarias se recusam a vender a revista, sabe-se lá o motivo. Certamente porque não dá tanto lucro quanto um best-seller. Mas há leitores interessados em todos os cantos do país. Quando o mercado só se interessa por lucros estratosféricos, publicações como a Coyote acabam prejudicadas. Vamos resolver este problema com vendas diretas pela internet.”
O que é mais difícil ao fazer uma publicação literária no país? “O mais difícil é manter a longevidade que a Coyote conseguiu. Historicamente, no Brasil, revistas literárias não passam do quinto número. Nós estamos completando dez anos em 2012, com 24 números lançados. Poderíamos ter lançado quase o dobro, se trabalhássemos com condições um pouquinho melhores. Ao longo dos anos, nos inscrevemos em vários editais e nunca conseguimos absolutamente nada, exceto o apoio do Promic, de Londrina. O último edital do qual participamos foi um do Ministério da Cultura para revistas culturais. Perdemos para Rolling Stones e Speak-Up. Fidelidade dos leitores, nós temos. Colaboradores também não nos faltam: há ótimos poetas, escritores, fotógrafos, artistas e tradutores em atividade no país, sempre dispostos a divulgar material inédito. A revista tem um enorme prestígio. O que não temos é dinheiro para fazê-la crescer.”
Algum novo projeto, algo relacionado a internet em vista? “Estamos trabalhando na edição de aniversário. Uma década, para uma revista literária, é um marco histórico. Também estamos pesquisando com webdesigners a criação, finalmente, do site da Coyote. Queremos oferecer todos os números anteriores, criar uma versão online da revista e desenvolver um sistema de vendas diretas para aqueles que quiserem a edição impressa. Muita gente nos pergunta: mas como a revista não tem um site ainda? A resposta é: porque cada um dos editores faz uma porção de outras coisas. Nenhum deles sobrevive da revista. Ao contrário: não ganhamos um tostão. Fazemos por pura teimosia e amor à arte, para usar um velho clichê, azul e desbotado.”
Algum número foi particularmente marcante na trajetória da Coyote? “Os números são todos marcantes. Fazemos a revista com muito critério, zelo e capricho. Mas, se fosse mencionar alguns, destacaria os dossiês, com entrevistas inéditas, de Paulo Leminski, Roberto Piva, Marjorie Perloff, Eugen Bavcar, Moacyr Scliar, os textos inéditos de Daniel Wallace, Domingos Pellegrini, Pedro Juan Gutierrez, João Gilberto Noll, Sebastião Nunes e Wilson Bueno, ou ainda a tradução de poetas nômades do Oriente Médio. Mas, sobretudo, a revelação de vários autores novos, que, em seguida, foram publicados por editoras, como João Filho, Jorge Cardoso e Nilo Oliveira. Esta é uma filosofia da Coyote que seguimos à risca: ao lado de inéditos de autores já consagrados, publicamos sempre autores novos e até totalmente desconhecidos. Brasileiros ou estrangeiros. Não queremos chover no molhado. Um dos elogios mais caros a nós, e que ouvimos com frequência, é: ‘mais uma vez vocês estão publicando autores de que nunca ouvi falar’.”
Há uma tradição de revista literária no Paraná como um todo, não? “Somos de Londrina, não Curitiba, mas tanto os “coxas brancas” (apelido dos curitibanos, por causa do frio e do time da capital) quanto os “pés vermelhos” (o dos londrinenses, devido à cor da terra) têm rica tradição, desde os simbolistas, de revistas, periódicos e páginas literárias. Em Londrina, houve o jornal Panorama, uma experiência jornalística maravilhosa que trouxe escritores e jornalistas de peso à cidade nos anos 1970, como João Antônio, Narciso Kalili, Myltainho, e formou toda uma geração de excelentes profissionais aqui. O Caderno 2 da “Folha de Londrina” era muito lido nos anos 1980, formador de leitor e de opinião. A página dominical Leitura, que foi editada por Domingos Pellegrini Jr., Nelson Capucho, Nilson Monteiro e pelo Ademir, antes de mim, era bastante lida e discutida, não só aqui, mas em vários outros pontos do país. Poetas e escritores nacionais, como Carlos Drummond de Andrade, Boris Schnaiderman, Waly Salomão, Paulo Leminski e muitos outros se manifestavam entusiasticamente sobre a qualidade e a ousadia. Guardamos até hoje bilhetes e cartas deles. Publicávamos inéditos de autores locais, paranaenses e brasileiros, e traduções de Rimbaud, Allen Ginsberg, Ezra Pound.
A tradição em Curitiba também é grande. “Em Curitiba, houve a revista Joaquim, editada pelo Dalton Trevisan nos anos 1950. Depois a página Letras e Artes nos 1960, feita por Silvio Back, a Pólo Inventiva e a Raposa nos 1970, por Reynaldo Jardim e Paulo Leminski, entre outros, e o jornal Nicolau, nos 1980, editado por Wilson Bueno, no qual trabalhei também. Nos anos 90 e 2000 existiram outras revistas literárias como Medusa, Oroboro, Etecetera, que não circulam mais. E existe ainda o jornal Rascunho, mais de crítica literária, mas que também pública inéditos de autores brasileiros e estrangeiros. Não sei o motivo pelo qual o Paraná, comparado a outros estados, tem uma trajetória robusta e instigante em termos de publicações literárias. Valeria um estudo sobre isso.”
Atualização 1 às 16h20 – Corrigi acima o nome dos próximos livros de Rodrigo Garcia Lopes. De Ademir Assunção, são os volumes “A Voz do Ventríloquo”, de poesias, que sai em maio, pela Edith Editorial, e “Faróis no Caos”, de entrevistas, em junho, pela Sesc Edições.
Atualização 2 às 11h20 de 8/4 – Um “coxa-branca” avisa ao blog que há imprecisão, ou ao menos outra versão, sobre o uso do termo. Explica Luis Pellanda, escritor: “Não se usa ‘coxa-branca’ para designar o curitibano! ‘Coxa-branca’ é só aquele que, como eu, torce para o Coritiba. O termo também não é relacionado ao frio, mas à etnia dos fundadores do time: os alemães, de calção, expunham coxas branquíssimas.”