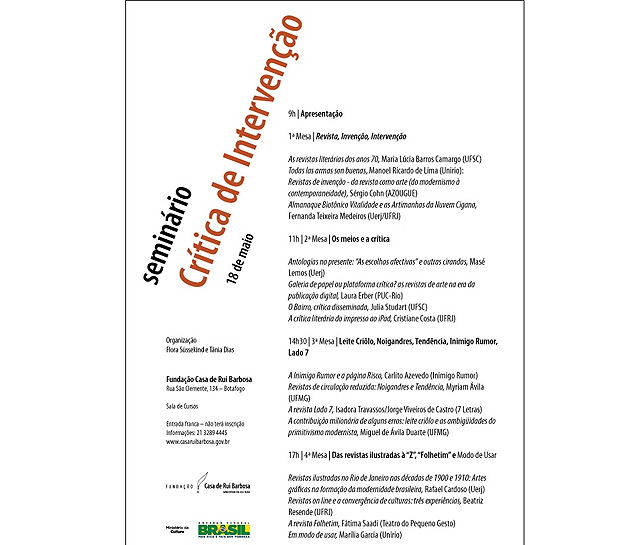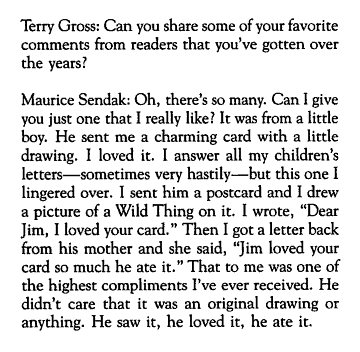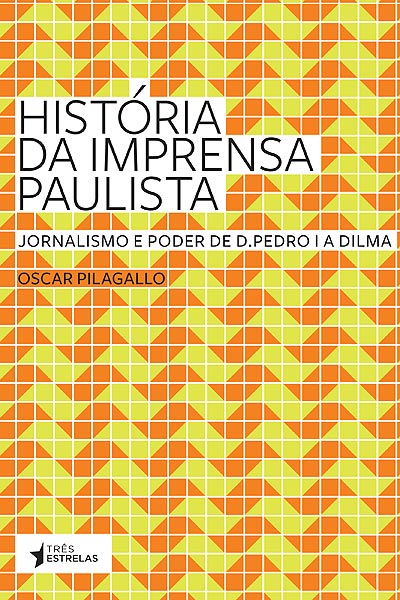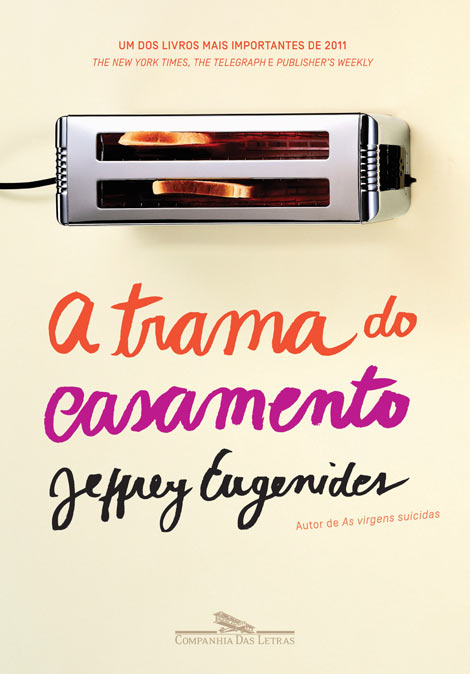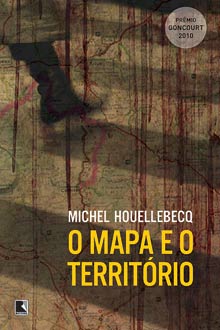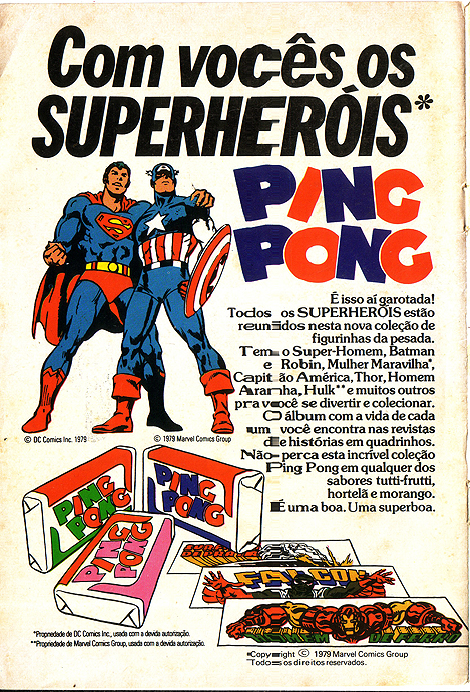Novos Estudos Cebrap, embora também publique ensaios, não é bem revista literária, como as outras de que tratamos aqui — a serrote, vá por aqui, Rascunho, por aqui, e Coyote, por aqui. Os textos têm mais a forma de artigo acadêmico, o paper, que a de ensaio literário; não tratam especificamente de literatura, mas também podem tratar.
Uma das revistas-referência hoje no Brasil na área de humanidades, a Novos Estudos Cebrap tem uma história de mais de três décadas. Foi criada em 1981 pelo Cebrap, importante think tank da América do Sul e Central, sediado em São Paulo —vá por aqui para chegar até o site. Como escreveu à época o crítico literário Roberto Schwarz no primeiro editorial, a situação era “péssima, excelente para fazer uma revista”. A frase é lembrada por Joaquim Toledo Jr., atual editor, que nos conta de edições de grande repercussão, apesar dos números pouco expressivos de tiragem ou assinantes. Note, leitor: tiragem, ou audiência, nem sempre significa influência, e vice-versa.
O objetivo dessa série de posts é divulgar as publicações, mas também compreender como nascem, são feitas, circulam e têm influência no país. O que quer dizer que, por fim, as respostas dos seus editores acabam por esboçar uma pequeníssima parte de nossa história intelectual e cultural mais recente.
Atualização às 13h 40 de 14/5 – Para quem perguntou sobre onde comprar se não fizer assinatura: em São Paulo e outras capitais, em livrarias Cultura e da Travessa, mas talvez será necessário encomendar. A distribuição é da Editora 34, por onde também se pode procurar exemplares.
Como surge a revista na década de 1980, qual era o propósito na época? “Acho que a frase de Roberto Schwarz que está no editorial do número 1 (dezembro de 1981) resume bem essas circunstâncias: “a situação é péssima, excelente para fazer uma revista”. Quase uma paráfrase acadêmica e engajada de W. H. Auden, para quem um clima social e político de confusão e urgência, como aquele do começo da década de 1980 no Brasil, era ótimo para abrir um bar. O Cebrap já tinha a essa altura mais de uma década de atuação em pesquisas voltadas às mazelas da modernização brasileira – urbanização desordenada, desemprego, pobreza e a ausência de democracia, e a casa já contava com publicações próprias, uma espécie de boletim com resultados desses trabalhos, os “Cadernos Cebrap”, e também os “Estudos Cebrap” (esses últimos distribuídos pela editora Paz e Terra). A certa altura, surgiu a ideia de uma revista com outro perfil, mais leve – menos acadêmica, menos sisuda -, com um apelo para um público interessado mas não necessariamente especialista, ou ainda em vias de formação – estudantes de graduação e curiosos em geral. Rodrigo Naves, que editou a revista de 1987 a 1996 (e foi crucial, a meu ver, para a definição de seu espírito), atribui essa sacada em parte ao sucesso da coleção “Os Pensadores”, da Abril, cujas edições esgotavam rapidamente nas bancas, apesar de publicar autores desconhecidos e dificílimos.”
O que o sucesso da coleção “Os Pensadores” significava? “Isso teria mostrado a carência e demanda por uma publicação como a Novos Estudos: multidisciplinar, voltada a questões contemporâneas e com artigos sofisticados o suficiente para servirem como contribuição científica e política ao debate brasileiro mas simpáticos o suficiente para dialogar com um espectro mais amplo de leitores.”
Os números não são tão expressivos [ao fim deste post, o leitor os encontra], porém um artigo de peso na revista tem grande repercussão. Você pode lembrar de alguns desses textos/situações? “Acho que o dossiê Jurgen Habermas (n. 18, setembro de 1987) foi um marco, introduzindo o filósofo alemão, cujo trabalho teria grande repercussão nas décadas seguintes no país, para o leitor brasileiro. Foi uma escolha bastante acertada de textos – uma entrevista, um ensaio de diagnóstico da crise do estado de bem estar social e de certos formas de ação política, e outro ensaio sobre arquitetura e a questão, então atual, da pós-modernidade e do pós-modernismo. De certa forma, o dossiê é um ótimo exemplo da linha da revista, com teoria social, política, arte e um diagnóstico do mundo contemporâneo.”
Entre os textos mais recentes, quais pode citar como de grande repercussão? “O artigo em que o cientista político da universidade de São Paulo André Singer procurou explicar o fenômeno a que chamou de “lulismo” (“Raízes sociais e ideológicas do lulismo”, n.85, dezembro de 2009) também gerou um debate bastante amplo e oportuno, qualificando a discussão sobre a trajetória do PT e os dois governos Lula. Entre os publicados durante minha gestão como editor, o artigo do antropólogo Omar Ribeiro Thomaz sobre o terremoto no Haiti (“O terremoto no Haiti, o mundo dos brancos e o lougawou”, n. 86, março de 2010) é um bom exemplo também do espírito da revista. Omar, que também foi editor, presenciou o terremoto, assim como a atuação dos organismos internacionais que prometeram mais do que fizeram para ajudar o país na reconstrução. Junto ao Omar estava a fotógrafa Chris Bierrenbach, que registrou o terremoto e suas consequências (uma seleção de suas fotos acompanha o artigo). O artigo acabou sendo uma crítica bastante contundente desses organismos que dispõem de um excelente aparato midiático mas têm pouca capacidade de ação real. Esses artigos têm em comum, acho, o fato de partirem de um olhar altamente qualificado, de especialistas, mas voltado para a interpretação e crítica do presente, e de se dirigirem com generosidade ao leitor, sem facilitação mas também sem aquele caráter técnico ou hermético que mesmo as ciências humanas podem assumir.”
 Em mais de três décadas, como o projeto se renovou? “A renovação da revista, me parece, segue um percurso quase natural, acompanhando a renovação da produção acadêmica, seus temas e tendências. Mas acompanha também, pelo menos em parte, as inclinações dos editores. Em sua gestão, Alvaro Comin deu bastante ênfase a questões de sociologia econômica; Omar R. Thomaz privilegiou determinados debates políticos; Flavio Moura tocou a reformulação do projeto gráfico etc. Ainda, o meio acadêmico e intelectual e brasileiro também mudou, em escala e em qualidade, e a revista necessariamente teve de se adaptar a isso. A abertura da revista é resultado da preocupação em evitar endogenia – que a revista gire em torno de um conjunto pequeno, ainda que excelente, de pessoas, ainda mais ligadas à própria instituição -, e da adoção sistemática da avaliação por pares dos artigos submetidos.”
Em mais de três décadas, como o projeto se renovou? “A renovação da revista, me parece, segue um percurso quase natural, acompanhando a renovação da produção acadêmica, seus temas e tendências. Mas acompanha também, pelo menos em parte, as inclinações dos editores. Em sua gestão, Alvaro Comin deu bastante ênfase a questões de sociologia econômica; Omar R. Thomaz privilegiou determinados debates políticos; Flavio Moura tocou a reformulação do projeto gráfico etc. Ainda, o meio acadêmico e intelectual e brasileiro também mudou, em escala e em qualidade, e a revista necessariamente teve de se adaptar a isso. A abertura da revista é resultado da preocupação em evitar endogenia – que a revista gire em torno de um conjunto pequeno, ainda que excelente, de pessoas, ainda mais ligadas à própria instituição -, e da adoção sistemática da avaliação por pares dos artigos submetidos.”
O modo de fazer: como são decididos os temas e enfoques; com que periodicidade se reúnem, como selecionam o que entra? “Os artigos se dividem em três grandes categorias: opinião, artigos strictu sensu (em geral de perfil mais acadêmico) e resenhas. Os artigos de opinião costumam ser encomendados – o tema e o nome saem da reunião do conselho editorial, e são sempre de assuntos atuais, ainda quentes, em geral que ocuparam espaço no debate durante o período entre um número e outro da revista. Da reunião surgem nomes possíveis também. Os artigos têm origem mista: recebemos submissões, que passam por processo de avaliação interno e externo, e também saímos à caça: aí entra o editor e seu telefone, importunando professores ocupados com seus pedidos. Esses artigos também passam por uma leitura crítica de um especialista da área. As resenhas são também, em geral, encomendadas, porque a escolha dos livros é feita na reunião do conselho, ou em consultas individuais. Depois, como no caso dos artigos de opinião, cava-se um bom nome para a tarefa. Mas também recebemos submissões de resenhas, que passam pelo mesmo processo de avaliação por que passam os artigos. O conselho editorial se reúne periodicamente, pelo menos três vezes por ano. A reunião é acima de tudo um brainstorm: em meio a comentários sobre assuntos correntes e as novidades em geral, surgem temas para dossiês, sugestões de tradução, ideias de entrevistas ou nomes para escrever artigos sobre determinado assunto. O editor sai com a tarefa de transformar isso tudo em uma revista, e tentar dar uma certa coerência ou equilíbrio para cada número. A qualidade do conselho editorial – todos acadêmicos ou intelectuais destacados em suas áreas – facilita e impõe, ao mesmo tempo, um desafio.”
Sei das dificuldades para transformar um texto científico, que precisa obedecer a um modelo necessário na universidade, em ensaio para ser lido por um público maior. Como fazem os ajustes? “Cada artigo é uma tarefa diferente. Começamos pela seleção: evitar artigos específicos demais, muito presos a um debate pontual, ainda que importante, de uma determinada área: estudos de caso muito particulares, exercícios de aplicação de modelos, revisão bibliográfica ou debates apenas metodológicos. O ideal é que seja um artigo especializado, consistente, com algum grau de sofisticação e inovação – que leve para frente alguma questão de sua área – mas que também seja um comentário crítico sobre questões atuais e mais gerais. De um certo ponto de vista, os temas são muito recorrentes, os velhos de sempre: democracia, justiça social, igualdade de gênero, o (mal) funcionamento da economia capitalista, os rumos da cultura nacional etc. Esse é, me parece, justamente o espírito do ensaio. Quando o artigo se encaixa nesses critérios, procuramos ajudar no possível a amaciar o estilo, evitando o peso da prosa acadêmica que, apesar da má fama, não é necessariamente desajeitada no Brasil, e em alguns é muito bem representada. No entanto, não é possível reinventar a roda a cada instante, de maneira que procuramos sempre garantir artigos consistentes, relevantes em sua área, bem escritos e com alguma zona de contato com o leitor não especialista.”
O que pode dizer de sua observação de revistas no mesmo formato feitas no exterior? “Eu teria certo receio em generalizar essas diferenças. Acadêmicos podem ser obtusos ou transparentes em qualquer língua. Depende muito, apesar da expressão caduca, da vocação. Alguns preferem a aridez da prosa técnica – e pensam os artigos na chave da comunicação científica, e não do debate amplo. Outros associam a escrita ao ensino, e valorizam o estilo. Cientistas políticos tendem ao vocabulário objetivo de sua área, filósofos prezam pela densidade conceitual de seus artigos, e críticos literários costumam fazer uso mais criativo da linguagem. Mas é possível que essas qualidades estejam distribuídas de forma irregular por todas as áreas. De qualquer maneira, acho que as revistas devem se preocupar em fixar um estilo, um padrão. Seja a clareza jornalística engajada de uma New Left Review (http://www.newleftreview.org/), seja a opacidade auto-referencial de uma Critical Inquiry (http://criticalinquiry.uchicago.edu/), o mais importante é saber a quem se quer falar, quem é seu leitor.”
***
O blog reservou ao pé do post uma parte das informações, aquelas relativas a números.
Os números da revista, tiragem, assinaturas e visitas ao site: “Temos cerca de 500 assinantes, para uma tiragem de mil exemplares. No site, o acesso médio mensal é cerca de 1,5 mil –são dados do site, e não incluem os acessos à página da revista nem o acesso a artigos avulsos no Scielo, onde provavelmente temos pelo menos uma quantidade igual de acessos. A revista já chegou a 2,5 exemplares por edição, com cerca de mil assinantes. Mas o acesso aberto (do número corrente e alguns passados, mas não todo o acervo) na internet implicou uma redução de ambas as coisas. Ainda assim, a revista pode se orgulhar de, em 30 anos, jamais ter atrasado pra valer um número. Publicações do mesmo tipo costumam ter uma vida muito mais imprevisível. Nos últimos anos, uma parceria com a Fundação Carlos Chagas tem tornado viável a publicação. Há um interesse, que ainda não soubemos explorar direito, pela revista em países lusófonos. No mapa de acessos do site Angola e Moçambique sempre aparecem – há poucos acessos, mas aparecem. No meio acadêmico de Portugal, é reconhecida e lida. Devido aos custos, tivemos que interromper alguns acordos de permuta com publicações estrangeiras, mas estamos retomando.”
O perfil do leitor: “A maioria tem algum vínculo com a área de ciências humanas, ou grande interesse em assuntos políticos correntes, e vê na revista uma fonte de informação em profundidade. A revista pode ser acessada no Scielo, em acesso aberto, e boa parte do acervo está disponível. Estamos renovando o site justamente porque sabemos que, se o número de assinantes não tem oscilado muito – nem para mais, mas tampouco para menos -, o número de leitores tem crescido. Temos também as famosas contas em redes sociais, que são uma ótima ferramenta de divulgação (e gratuita, ainda por cima).”
O perfil dos colaboradores: “A revista publica cerca de 36 artigos por ano. São quase 31 anos de história. Eu estimo que pelo menos 700 autores diferentes já apareceram nas páginas de Novos Estudos”.